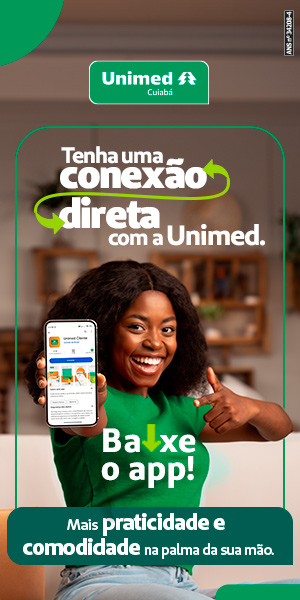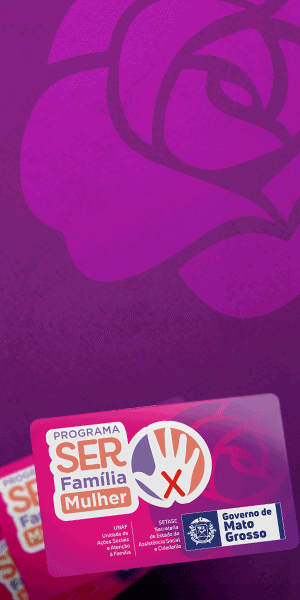ELISMAR BEZERRA
Em sua obra clássica, “A formação econômica do Brasil”, Caio Prado Júnior defende, com razão, que os primeiros europeus que vieram para o Brasil, não vieram para fundar um Estado, para formar um país.
Vieram como administradores da grande empresa portuguesa para explorar as riquezas naturais e, depois, para administrar a produção agropecuária destinada ao abastecimento da Coroa Portuguesa – direta e indiretamente por meio do comércio de tais produtos, etc.
De fato, quem estava destinado ao trabalho produtivo eram os negros trazidos sob ferros da África e os povos originários escravizados; claro, também havia, desde o início da colonização, europeus destinados ao trabalho, mas esses eram pobres, geralmente condenados pela justiça, portanto um tipo não-europeu padrão; que, assim, não pertencia à classe proprietária-governante.
Foi essa gente que, liderada por Paschoal Moreira Cabral, chegou ali no São Gonçalo, em 1719. Conforme nosso Lenine Póvoas, São Gonçalo era um “antigo aldeamento indígena”, o qual fora arrasado, “incendiado por Pires de Campos”. Tornou-se o local em que as bandeiras acampavam para reabastecerem-se por meio do cultivo de roças, da caça a animais e da pesca; foi por essas necessidades e para recuperar-se da refrega sofrida do Coxiponé que Moreira Cabral acampou ali. Diferentemente de todas as demais, a sua bandeira terminou ali – depois que os seus comandados descobriram o tão cobiçado ouro no leito do rio Coxipó acima.
De fato, as bandeiras, conjugavam a busca por índios para a escravidão nas atividades agropecuárias paulistas, com a exploração dos leitos dos rios e córregos atrás de metais e pedras preciosas. Assim, de caçadora de índios, a bandeira de Moreira Cabral passou imediatamente à exploração do ouro. Achar o tão cobiçado ouro era o acontecimento com que sonhava, desde 1500, a perdulária Coroa Portuguesa e seus prepostos no Brasil, especialmente os da Capitania de São Paulo a quem estas terras pertenciam.
Lenine Póvoas nos informa que ali no São Gonçalo “muito provavelmente, teria sido redigida e assinada a “ata” da fundação de Cuiabá”. Emblemático esse fato: no São Gonçalo, onde a gente da civilização Coxiponé vivia desde tempos imemoriais; onde as especificidades da natureza se lhes aflorava num ambiente propício para um trançar solidário da vida; onde essa urdidura se fazia sob ritmos de acanhadas, mas, suficientes tecnologias e instrumentais que aplicados na agricultura e na caça e pesca dava-lhes os alimentos necessários; onde a celebração dos ritos e as manifestações culturais próprias ganhavam significâncias que lhes engrandeciam o espírito do seu “ser” Coxiponé – foi ali, sobre os escombros da civilização Coxiponé, que a mão-bandeirante no fim do verão de 1719, escreveu o documento inaugural da civilização burguesa.
A destruição do “aldeamento” Coxiponé foi, naquele então, um ato que se realizou como “normal” e “necessário”, pois que se inscrevia como característico do jeito de conceber e praticar a vida pelo mundo europeu-colonizador. Era essa a “concepção de mundo” que orientava o modo de ser de Moreira Cabral e dos demais chefes bandeirantes, de sorte que suas ordens (inquestionáveis, insofismáveis) determinando ações como a destruição daquele “aldeamento” reafirmava o desprezo e o velho ódio europeu-colonizador ao nativo.
Entretanto, a destruição do mundo do “índio” reverberava também como destruição do ser dos subalternos da bandeira, os quais eram obrigados a fazer o trabalho sujo de subjugá-los, por meio da mais bruta violência, ao mundo que lhes negava como ser e ao qual só estavam vinculados como instrumento de afirmação da superioridade do que o negava. Está nessa gente a gênese da classe trabalhadora mato-grossense.
Trata-se de um processo complexo que, se a distância temporal daquele então nos permite “ver” a dimensão da perversidade com certa clareza, reveste-se da mesma perversidade ensinar defendendo, ainda hoje, em aulas “espetaculares” a “intrepidez”, a “valentia” e o caráter “desbravador” dos bandeirantes e sua visão de mundo. Quase três séculos depois esse tipo de ensino segue tentando impor a verdade dos vencedores, segue tentando convencer os do mundo do trabalho que os vencidos são outros e não eles próprios. A lavratura da “ata” que inaugurou Cuiabá, é o ato inaugural da civilização que se impôs brutal e violentamente sobre o mundo dos povos originários que aqui viviam desde dezenas de milhares de anos, conforme atesta a antropologia.
O mundo dos povos originários que foi destruído e subjugado é o mundo dos que vivem apenas do próprio trabalho e que vem se desenvolvendo ao longo desses séculos. É essa gente que desde aquele então vive em meio às esperanças, contradições, às lutas e conflitos na tentativa de afirmar-se como sujeito da própria história, na perspectiva de outra História.
O filósofo liberal John Locke, um importante intelectual formulador das principais idéias do liberalismo burguês de então, referindo-se aos índios norte-americanos tratava-os como “uma besta selvagem e voraz (savage ravenous Beast), perigosa à existência alheia”.
Eram idéias assim que orientavam o pensar e o agir da classe proprietária-governante de então, de modo que o nativo e o negro não eram contados como gente; eis porque mesmo as bandeiras sendo expedições constituídas por centenas e, às vezes, por milhares de pessoas, das quais pouquíssimos brancos, os relatos que tratam sobre suas atividades quase nunca trazem informações sobre a quantidade de índios e negros nelas existentes.
A história escrita como verdade definitiva, não deixa espaço para a presença de outros que não sejam os “heróis” e “benfazejos” homens de negócio. É assim porque ao longo de quase três séculos de história, quem segue governando a sociedade inaugurada em 1719 é a mesma classe proprietária-governante.
É evidente que o trabalhador de hoje, de um modo geral, tem melhores condições de vida e trabalho que os de outrora; entretanto, essa melhoria conquistada (a custa de muita luta, vidas e conflitos) não pode ser entendida como produto da “evolução natural” da economia. Assim, se nos referenciamos na nossa gênese econômico-social é para compreendermos o processo e
não para enaltecer o modo como vivemos hoje. Inclusive porque, melhorias por melhorias, o tão invejado “estado do bem estar social” alcançado em alguns países europeus, era muito superior à nossa condição de vida e trabalho – e estamos vendo-o virar pó agora.
Trata-se, portanto, de compreendermos os avanços conquistados pelos trabalhadores como elementos econômicos, sociais e culturais do processo de reinvenção do modo de produzir material e espiritualmente a vida, na perspectiva do mundo do trabalho; portanto, em superação à lógica econômico-social que se implantou aqui em 1719, determinada pelo Capital, e que tem se metamorfoseado ao longo dos séculos sempre no sentido da sua própria perpetuação. É essa reinvenção que é importante e necessária.
ELISMAR BEZERRA é professor da rede estadual de ensino, foi secretário de Trânsito e Transporte Urbano em Cuiabá.
A redação do RepórterMT não se responsabiliza pelos artigos e conceitos assinados, aos quais representam a opinião pessoal do autor.